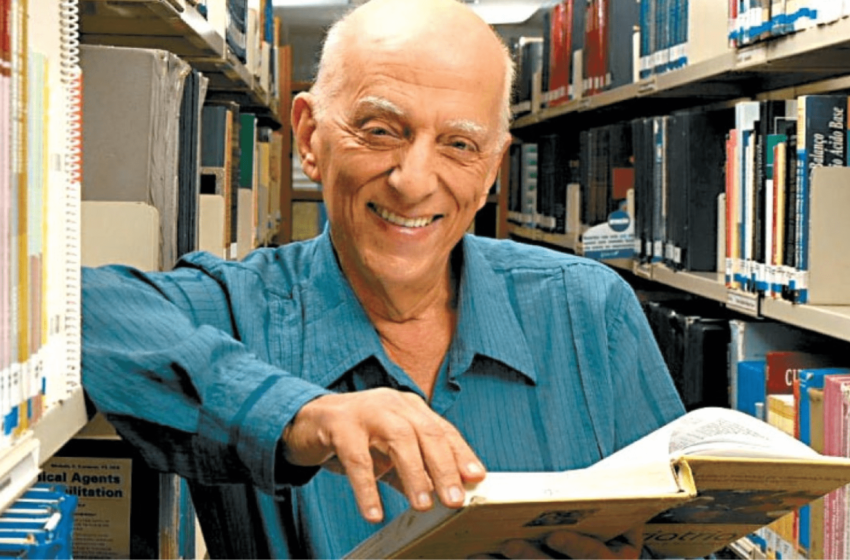A notícia da passagem de Jair vinda de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a princípio, não comoveu a ponto de fazer alguém assumir publicamente a queda de uma lágrima pelo patriarca da família André. O vértice de sensibilidade partiu do primogênito, José Carlos, de 58 anos, que, resignado, comprometeu-se a acender uma vela para que a alma daquele ex-motorista profissional pudesse encontrar uma via menos tortuosa no itinerário desconhecido. A barreira geográfica de quase mil quilômetros entre a capital onde o mineiro de São Sebastião do Paraíso passou a maior parte da vida e Curitiba, no Paraná, era, ao fim e ao cabo, a menor distância entre o finado e a parte da família que precisou migrar de cidade em cidade ao longo da década de 1970, em alguns momentos em situação de penúria, até se fixar na capital paranaense no início dos anos 1980.
Aquele 30 de maio — uma terça-feira cinza cuja tarde, de acordo com o Simepar, o órgão que produz informações meteorológicas no Paraná, registrou 16 graus, a menor temperatura naquela faixa horária do dia até a publicação deste texto — parecia o cenário propício para a frivolidade que o recado da morte daquele estranho homem de 81 anos, vítima de infarto, significava à parentela de pés vermelhos, pele calejada e olhos acimentados.
Conversas no grupo de mensagens instantâneas da família afugentavam a ideia de luto; alguns não teceram comentário ou sequer um emoji. Quem se pronunciou, relembrou as três raras vezes que Jair foi visto desde meados dos anos 1970, época em que rompeu laços com esta parte da família. Depois, as trocas de mensagem versaram sobre um cuidado até certo ponto exagerado em compartilhar o aviso com Emília, de 76 anos, mãe-solo dos quatro filhos oriundos da relação; sem qualquer reviravolta na narrativa, ela reagiria ao comunicado com indiferença, certo deboche, e finalizou com seu bordão mais famoso: “Ficaram com medo de me contar porque acharam que eu ainda gosto dele. Faça ideia”.
Por fim, houve ainda tempo para alguns impropérios. Eles não serão registrados neste preâmbulo, pois poderiam ofender o direito à honra, à privacidade e ou à imagem da personalidade post mortem, garantias estas previstas no Código Civil (art. 12). Por mais erros que Jair tenha cometido, este texto não é uma vingança, e sim uma tentativa de conhecê-lo e humanizá-lo, sem romantizá-lo. Há de transparecer, portanto, a existência dos comentários hostis apenas para que o leitor ou a leitora entenda as fissuras na relação, desde que não se revelem detalhes fatídicos que pouco ou nada interessam.
O início da história que realmente importa
Jair André e Emília Balduíno se conheceram no início dos anos 1960 no interior do Paraná, especificamente, em Jacutinga, um distrito do município de Ivaiporã, criado em 1961 e cuja maior característica é a existência de uma terra tão vermelha quanto ferida em início de cicatrização. Casaram-se em 26 de dezembro de 1962 e tiveram três meninos: José Carlos, Luiz Carlos e Maurício, nascidos entre 1964 e 1969. A caçula, Cleuzeli, a Nena, viria ao mundo três anos mais tarde, quando a família já morava em Cornélio Procópio, também no interior paranaense. Nesse meio tempo, Jair e, pouco depois, Emília e a prole passaram cerca de um ano em Curitiba.
As mudanças constantes não foram uma característica singular da família. O relatório Relações entre as alterações históricas na dinâmica demográfica brasileira e os impactos decorrentes do processo de envelhecimento da população, produzido, em 2016, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que o país viveu uma das mais intensas transições demográficas do planeta ao longo do século XX. O contexto de modernização, acentuado na década de 1960, provocou a naturalização de uma série de violações de direitos humanos, ligadas ao acesso à moradia, à educação, ao trabalho infantil, à saúde e à segurança pública, para citar alguns exemplos que impactaram em maior ou menor grau a biografia dos protagonistas desta história. Se, a título de ilustração, para cada habitante que vivia em regiões urbanizadas no início dos anos 1930 existiam quatro que ocupavam áreas rurais, em meio século essa proporção foi invertida. Entende-se o quanto este movimento foi denso quando ele é confrontado com outras realidades: para ter uma transformação demográfica similar, aponta o mesmo estudo, a França demorou pouco mais de duzentos anos.
A vinda de Jair para Curitiba, em 1969, carregava contornos um pouco distintos da maioria das pessoas que viveram naquela conjuntura. Decerto até tenha passado pela cabeça daquele homem, que começou a trabalhar como motorista de ônibus na cidade à época com quase 870 mil habitantes e em plena expansão, que a capital traria oportunidades, mas, segundo os relatos coletados para este texto, o que mais influenciou na vinda foi a existência de uma amante, a Sebastiana, curiosamente, xará da mãe de Jair. “Ele me deixou com as crianças e fugiu com essa Tiana. Ela era muito bonita. Passou um tempo e eu vim atrás. Eu morria de amor por ele. Faça ideia”, lembra Emília com gracejo, “E eu vim porque ele prometeu largar dela”.
Da ascensão à fuga
O fator infidelidade, aliás, teria influenciado no retorno no ano seguinte ao interior do estado, onde a família viveria por quatro anos com alguma prosperidade, e em todo o desfecho da história. “Quando a gente foi para Cornélio Procópio, o pai trabalhou primeiro como motorista de ônibus. Depois comprou um caminhão e virou ‘gato’, que era como o pessoal chamava os responsáveis por selecionar e transportar o pessoal para lidar nas lavouras de soja”, relembra José Carlos, que se recorda com certo orgulho de ajudar, por volta dos oito ou nove anos, na organização dos pagamentos aos trabalhadores rurais. “Nessa época eu era a mulher do ‘gato’”, completa Emília, antes de confidenciar: “Tomava conta do dinheiro. Algumas vezes peguei dinheiro escondida e guardei porque ele não me dava nada”.
Ao que tudo indica, o caixa paralelo foi residual na contabilidade. O período foi tão promissor que Jair pôde comprar um segundo caminhão e contratar um ajudante para conduzir o novo veículo. Ele acumulava dinheiro e mulheres. “Tinha a Maria Perna Torta, que a gente chamava assim porque mancava, e tinha a Maria Grilo, que a gente chamava assim porque era bem magrinha”, lista a ex-esposa.
A vida seguia nesse ritmo até que uma guinada ocorreu: num domingo, na volta de um torneio de futebol, o condutor auxiliar, que estaria bêbado, atropelou gravemente uma mulher. Os custos da internação ficaram para o proprietário do veículo. “Quando ele viu que o negócio ia ficar muito pesado, vendeu os caminhões, deixou a mãe, eu e as outras crianças morando lá e fugiu para Campo Grande”, conta o filho mais velho ao explicar que, na época, era “comum que quem fizesse bobagem fugisse para” o ainda “estado de Mato Grosso” — Mato Grosso do Sul só seria criado em 1977.
De acordo com Emília, a vítima do atropelamento fez diversas cirurgias e teve que amputar as pernas. Mesmo assim, não teria sobrevivido em decorrência de complicações — ou talvez pela falta de atendimento hospitalar adequado por conta da inadimplência de Jair? Nunca se saberá. O que se sabe é que o Sistema Único de Saúde só seria criado em 1988 pela Constituição Cidadã e que, antes disso, saúde não era uma obrigação do Estado.
Maria Perna Torta o acompanhou na fuga, enquanto os filhos e a então esposa, que às pressas começou a fazer faxinas, permaneceram no Paraná. A matriarca afirma que nem sempre recebia o combinado pela atividade informal. “A gente chegou a ficar sem alimento. Não tinha comida dentro das latas”, relembra.
“Nos fundos da casa tinha uma horta de verdura e o Zé Carlos começou a montar umas cestas, daí saía e vendia na rua. Ele me perguntava: ‘O que tá faltando hoje, mãe?’ Aí um dia ele pegava o dinheiro e comprava um açúcar; no outro dia perguntava de novo, aí trazia café ou arroz…”.
Emília Balduíno
“Eu vendia tanto as verduras que tinham no quintal de casa, que eram poucas, quanto as produzidas por uma outra pessoa que tinha uma horta comercial”, reforça José Carlos ou Zé Carlos, ou, mais raramente, Zecote, variações usadas por Emília para se referir ao filho mais velho. Luiz Carlos, o Major, segundo filho do casal, três anos mais novo e à época com 6 anos, ajudava.
O apelido que o acompanha desde a primeira infância foi dado devido à admiração que a criança demonstrava pelo responsável pela segurança do distrito de Jacutinga. Naquelas brincadeiras repetitivas que os adultos fazem com os pequenos, as pessoas perguntavam o que o Luiz Carlos gostaria de ser quando adulto. “Quero ser majó, majó…”, respondia. Pedreiro de mão cheia, há vários anos Major intercala fases em que foca no ofício profissional com momentos de desilusão — ou seria uma fuga? — em que é capaz de permutar da camisa no corpo a algo de alguém alheio.
O resgate
Passado um tempo que nenhuma memória conseguiu precisar, Jair voltou na calada da noite para buscar a família. “Ele me avisou um tempo antes: ‘Dá um jeito de vender a casa’. Aí me disse o valor que era pra vender. Eu peguei uma parcela e quando fui pegar a outra, o comprador disse que não ia pagar porque sabia que a gente estava fugindo, e fez chantagem que ia denunciar. Aí não recebi o dinheiro”, conta Emília.
Todos migraram para Campo Grande. Apesar de ter ido, lá ela resolveu se separar. Conheceu um novo homem, Fernando, com quem foi morar em Ribas do Rio Pardo, distante 100 quilômetros de Campo Grande. O novo casal, que ficou junto por poucos meses, foi lidar em uma área de plantio de eucalipto, setor do agronegócio que, segundo informações do site Potencial Florestal, desenvolveu-se em grande escala justamente a partir da década de 1960, período em que recebeu alguns incentivos fiscais. Segundo dados publicados em 2020 pelo IBGE, atualmente, Mato Grosso do Sul é o principal exportador de celulose do país e reúne os quatro primeiros municípios com maior área plantada de eucalipto do país: Ribas do Rio Pardo é o segundo na lista, atrás apenas de Três Lagoas.
Ranking dos municípios com maiores áreas de florestas plantadas
| Posição | Municípios | Eucalipto (ha) | Pinus (ha) e outras | TOTAL (ha) |
| 1 | Três Lagoas (MS) | 263.921 | 0 | 263.921 |
| 2 | Ribas do Rio Pardo (MS) | 218.130 | 2.870 | 221.000 |
| 3 | Água Clara (MS) | 134.478 | 264 | 134.742 |
| 4 | Brasilândia (MS) | 133.959 | 0 | 133.959 |
| 5 | João Pinheiro (MG) | 108.250 | 0 | 108.250 |
| 6 | Selvíria (MS) | 89.859 | 0 | 89.859 |
| 7 | Caravelas (BA) | 89.728 | 0 | 91.100 |
| 8 | Buritizeiro (MG) | 82.500 | 3 | 82.503 |
| 9 | Encruzilhada do Sul (RS) | 28.000 | 47.960 | 75.960 |
| 10 | Itamarandiba (MG) | 71.500 | 0 | 71.500 |
Os filhos acompanharam a mãe, com exceção do mais velho, que permaneceu com o pai, mas agora em Bandeirantes, município distante 58 quilômetros da capital sul-mato-grossense, onde Jair trabalharia nos dois anos seguintes como taxista. “Foi por causa da escola. A mãe não tinha ideia do que ia encontrar na cidade nova. Então, por segurança, eu fui transferido de Campo Grande para terminar o ano escolar”, lembra ao citar que há algo bom que guarda do pai: “Ele sempre me incentivou a estudar”. Não à toa, ele foi a primeira pessoa a concluir um curso superior na família. Formou-se em Administração pela Universidade Federal do Paraná, em 1998.
“Lá, com uns 13 anos eu dirigia um opala e uma rural”, relembra orgulhoso. Enquanto isso, Emília, em Ribas do Rio Pardo, engravidou outra vez — Jair chegaria a afirmar, incrédulo, que teria sido vítima de uma traição, algo repudiado pela ex-esposa. Ela, que não chegou a frequentar um ano na escola, conseguiu juntar certo dinheiro e comprou, às cegas, uma casa em Ouro Verde do Piquiri, na região sudoeste do Paraná.
“Quando acabou o ano escolar, a mãe passou para me buscar em Bandeirantes e voltamos para o interior do Paraná. Só que a casa era um barraco precário e, para piorar, já existia um proprietário”, conta José Carlos. “Era uma casa de madeira só com uma peça”, complementa Emília. Ao ver uma mulher com quatro filhos, grávida do quinto, e enganada, o posseiro permitiu, mediante pagamento, que a família ficasse no casebre. “Tive que pagar duas vezes por essa casa”, lembra. Mesmo gestante, ela e os dois filhos mais velhos foram por um tempo boias-frias. Em 1978, uma menina chorou pela primeira vez no cômodo único da casinhola, mas foi entregue ainda com três dias a uma família da região com condições de cuidá-la:
“Ou eu ficava com o bebê ou trabalhava para comprar comida para os outros. Eu não tive escolha”.
Emília Balduíno
Quem também não teve opção para conviver com o pai biológico e frequentar a escola foram Maurício e Nena, os caçulas, que neste período da história tinham, respectivamente, 9 e 6 anos. Ele cresceu e se tornou, como Major, pedreiro. Dependente químico, o filho preferido — mas nunca admitido pela matriarca — foi assassinado no final de 2005 por dívidas com traficantes. Já Nena enfrentou graves problemas emocionais ao longo da vida. Chegou a ser internada por três vezes na transição entre adolescência e início da vida adulta em manicômios. Como a Lei da Reforma Psiquiátrica (nº 10.216/01), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, só foi sancionada em 2001, ela enfrentou alguns tratamentos desumanos. Após muitos anos sem cuidado adequado para esquizofrenia, hoje toma medicação controlada.
Outras fugas
Ainda em Ouro Verde do Piquiri, Emília alugou uma peça e montou um bar para aumentar a renda. “Só que vinham uns caras que bebiam e não pagavam. Tinha que fazer comida de graça, faça ideia, ficavam ameaçando, quebravam as lâmpadas”, relembra. Foi por isso que ela e os filhos migraram outra vez para o distrito de Jacutinga, local onde esta história havia começado mais de uma década e meia antes. Lá, trabalhou nas lavouras de café e milho e conheceu Joaquim. “Aquilo era um diabo”, lembra séria, “Ele dizia: ‘Agora você é minha mulher. Se eu quiser fazer sexo com você aqui na cozinha, na frente das crianças, eu faço’. Aquilo me deixou com tanta raiva que eu disse que ele nunca mais ia me tocar”, recorda.
Ameaçada de morte depois de fazer, propositalmente, uma canjica com muito açúcar depois de uma briga, ela não tinha dinheiro para fugir: “Ele correu atrás de mim com uma faca até que eu entrei na casa de um dos meus irmãos, que era vizinho nosso. Depois de um tempo, um dos meninos encheu, escondido, um saco de café lá na casa do Joaquim, a gente vendeu para comprar passagem e veio para Curitiba”.
José Carlos, outra vez, ficou com uma das irmãs de Emília que até hoje mora em Jacutinga, Rufina, para terminar o ano escolar.
Noção de família como patrimônio
Em que pese certo rancor que representou à Emília e aos quatro filhos que carregam seu sobrenome, a forma como Jair construiu a própria biografia é fruto de um contexto. Ele não foi, sobremaneira, uma exceção quando o assunto é abandono por parte da figura paterna. Pelo contrário, a história dos André é um sulco dos arranjos familiares no Brasil. É preciso reconhecer que a noção de família surgiu e se consolidou a partir de uma demarcação entre biologia e cultura. Decorrente do processo de sedentarização e da necessidade do estabelecimento de regras mínimas que garantissem laços dentro de um grupo e na relação com outras comunidades, a construção cultural da família centrou-se na ideia de matrimônio.
Segundo a tese de Karina de Mendonça Vasconcellos — publicada em 2013 pelo Programa de Pós-graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações da Universidade de Brasília (UnB) —, a própria etimologia da palavra “família” dá indícios ao conjunto de valores nela implicados. O termo deriva do latim familia, cujo significado remete ao “conjunto de propriedades de alguém. Como familia vem de famulus, que significa escravo doméstico, estas propriedades incluem os escravos e as pessoas ligadas a uma grande personalidade” (p. 31-32).
Assim, desde sua concepção, o entendimento do termo carrega e aceita a desigualdade de poder entre seus integrantes, com foco na centralidade da figura patriarcal. A leniência de Emília e as exorbitâncias de Jair portam traços dessa perspectiva, entendida como normal no período. No papel virtual de patriarca, visitou Curitiba em meados dos anos 1980 com o intuito de levar novamente a ex-esposa para Mato Grosso do Sul. “Ele ficou sabendo que eu tinha conseguido comprar uma casa em Curitiba e veio aqui achando que ia negociar a casa para ter uma parte. Por isso queria voltar comigo”, aposta a ex-esposa ao mesmo tempo em que exemplifica como a noção de posse por parte da figura masculina é vista como natural, intepretação que acompanhou Jair até seus últimos dias.
Por coincidência do destino, os dois conversaram por videochamada cerca de um mês antes do falecimento: “Ele disse que estava sendo maltratado pelas mulheres lá em Campo Grande e perguntou se eu ainda queria voltar com ele. Aí ainda ficou bravo com a resposta”.
No papel, família André; na vida real, família Balduíno
No Brasil, em particular, de acordo com Eni de Mesquita Samara, no artigo O que mudou na família brasileira?: da colônia à atualidade, publicado em 2002 pela revista Psicologia USP, há uma ideia deturpada da composição familiar hegemônica no país desde o período colonial, quando as famílias mais comuns não eram as patriarcais, e sim “aquelas com estruturas mais simples e menor número de integrantes” (p. 28).

O estudo, que avalia os censos populacionais brasileiros ao longo de um século e meio, indica uma representativa existência de famílias chefiadas por mulheres ainda no século XIX. Em complemento, a pesquisa de Karina de Mendonça Vasconcellos, desenvolvida a partir de números extraídos de levantamentos do IBGE realizados entre 1992 e 2009, demonstra outras transformações nos padrões familiares, com a redução das formas tradicionais e o consequente aumento de famílias unipessoais, “assim como o número de casais sem filhos, de famílias monoparentais femininas e de famílias chefiadas por mulheres” (p. 18).
Conforme o boletim As dificuldades das mulheres chefes de família no mercado de trabalho, publicado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a maioria dos domicílios no Brasil é chefiada por mulheres, especialmente as negras. Os dados revelam que dos 75 milhões de lares do país, elas lideram 38,1 milhões de famílias (50,8%).
Vive-se luto quando houve rompimento há muito tempo?
A pessoa que teimou em ler até aqui e continua atenta vai perceber que pouco se fez questão de saber da vida de Jair desde o início da década de 1980. Simbolicamente, ele esteve morto durante todos estes anos. Foi visto em apenas três ocasiões: nas duas vezes em que esteve em Curitiba, respectivamente, em meados dos anos 1980 e, talvez, por volta de 2010, intercalada por uma visita a Campo Grande, em 2001 (algumas imagens do acervo pessoal da família abaixo). Na última vez que esteve em Curitiba, veio apenas porque precisava convencer a ex-esposa a autorizar a venda de uma casa em Campo Grande, algo que ela fez sem receber qualquer compensação financeira por um bem que ela teria direito — foi apenas a terceira vez que Emília fez mal negócio envolvendo imóvel.




Segundo a psicóloga Rosevani Chiapetti, que atua na Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) com pessoas em situação de luto, distância e tempo não são fatores determinantes para que uma pessoa deixe de viver o processo. “Como agora a perda é real”, explica ela, a família “vai ter que repassar sentimentos que talvez estivessem esquecidos, adormecidos”. A profissional argumenta que em relações mais convencionais, nas quais há compartilhamento de afetividade, a falta da pessoa se transforma em saudade, porque o espaço de ausência é substituído progressivamente pela presença de memórias: “Em casos nos quais não há muita experiência compartilhada, talvez seja necessário repassar as partes negativas mesmo. Reviver esse vínculo, por mais negativo que seja, vai assentando a ideia de que a pessoa falecida não está mais aqui”.
Jair deixa — se é que já não havia deixado — algumas ex-esposas, 13 filhos e, 26 netos. Entre eles, o Marquinhos, de 35 anos, filho de Maurício, que, sem lembrar o nome do avô biológico paterno, questionou quando soube da notícia: “Que Jair que morreu? O Bolsonaro?”. A negativa veio acompanhada de uma conclusão rasa e em tom jocoso deste autor: “Talvez a explicação de tantos erros seja mesmo o nome”.
Hendryo André é jornalista, professor universitário e primeiro neto de Emília e Jair.