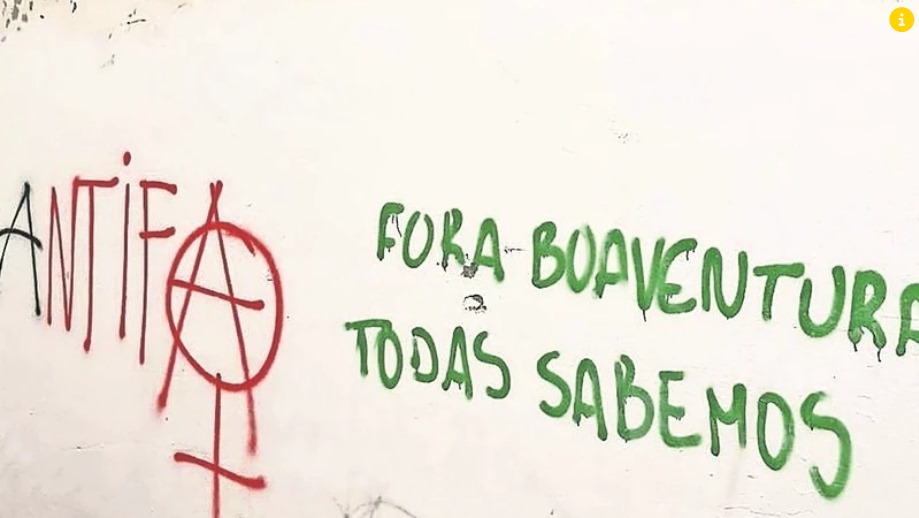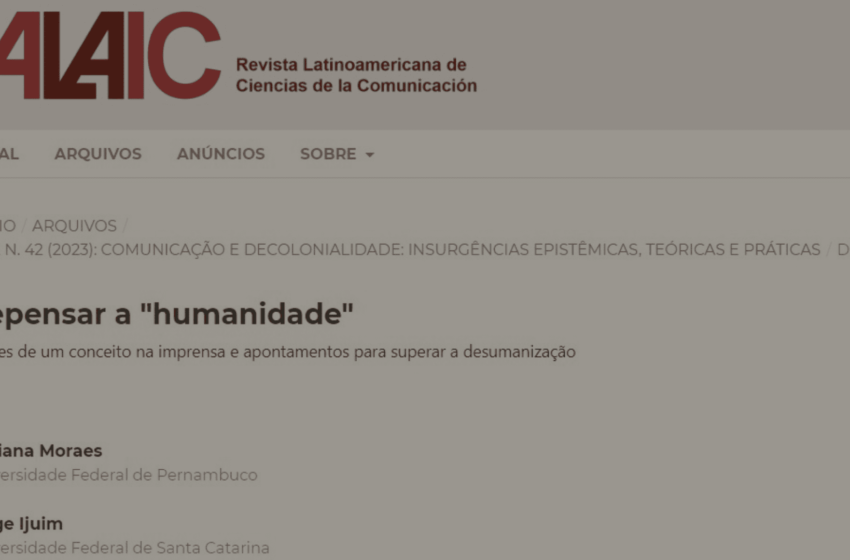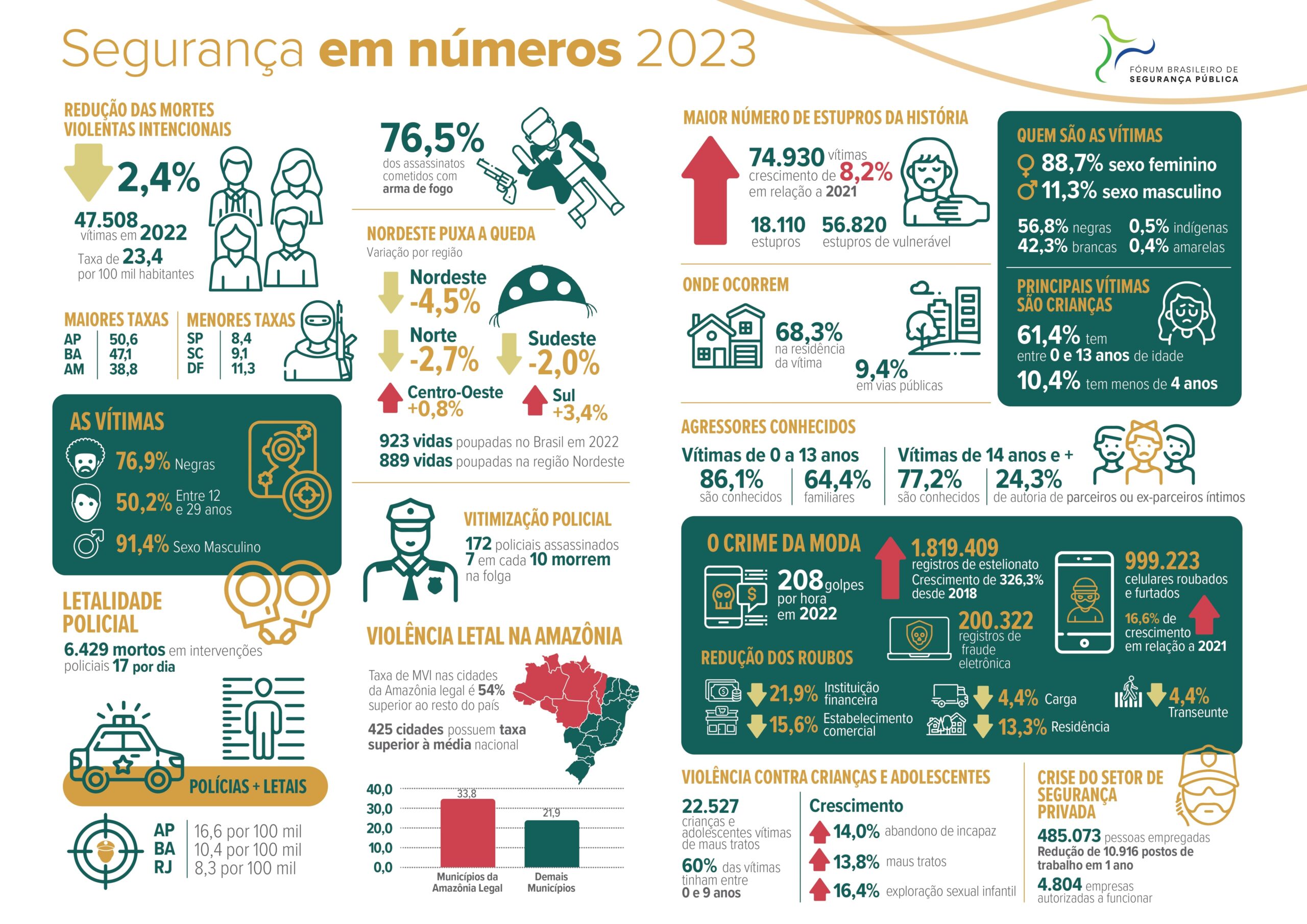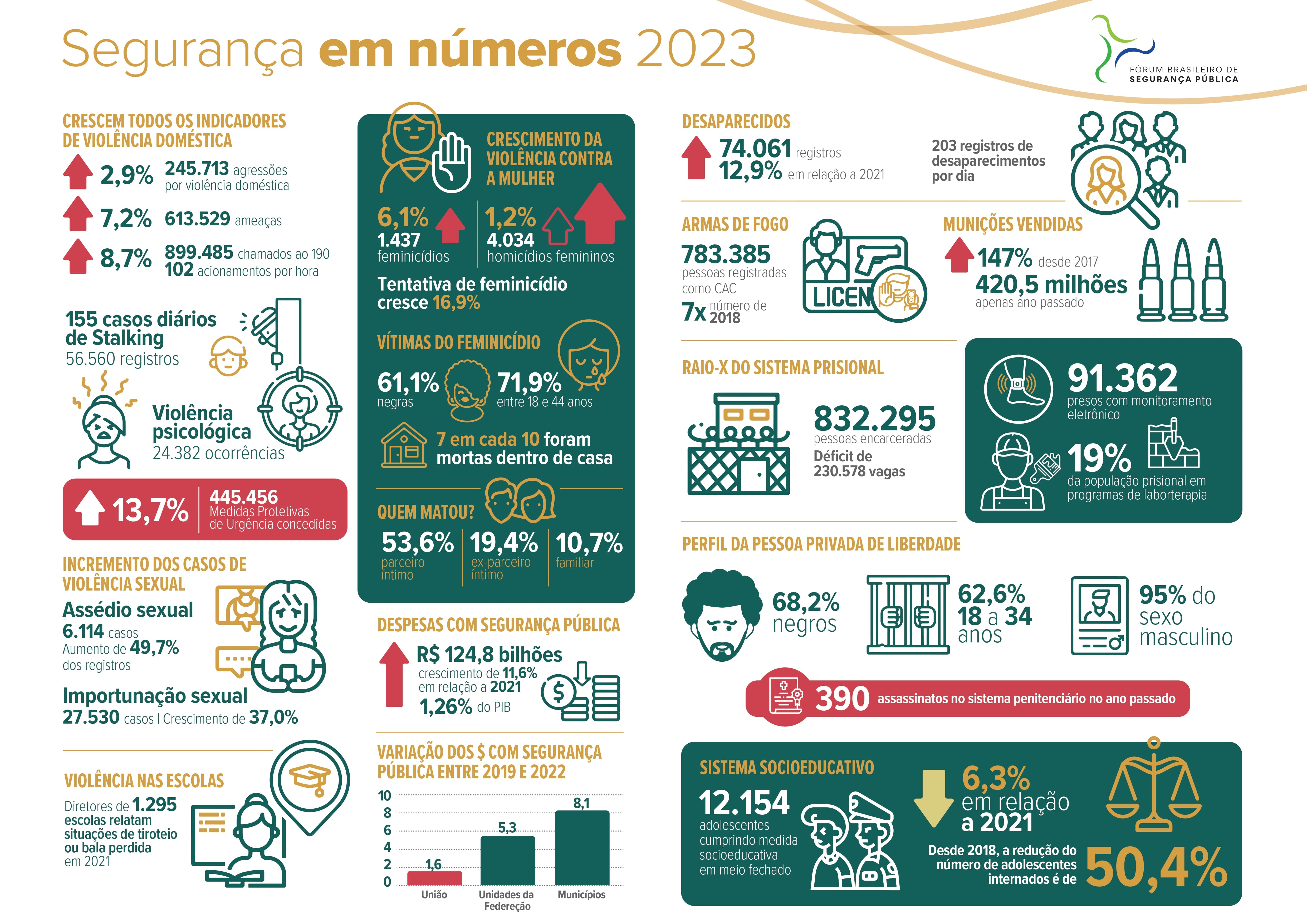Para implantação da base de lançamentos, centenas de famílias quilombolas foram remanejadas de seus territórios (Crédito foto: Sgt Bianca /Força Aérea Brasileira)
A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) condenou o Brasil por violações graves aos direitos das comunidades quilombolas de Alcântara, no Maranhão. A decisão histórica, anunciada em 13 de março de 2025, representa um marco na luta dessas comunidades por reparação, que há décadas enfrentam deslocamentos forçados e compulsórios, perda de territórios tradicionais e violações sistemáticas de seus direitos, incluindo propriedade coletiva, livre circulação, autodeterminação, consulta prévia, proteção familiar, alimentação, moradia, educação, igualdade perante a lei e proteção judicial.
O caso remonta aos anos 1980, durante o governo José Sarney, quando o Brasil iniciou a implantação do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), destinado a atividades aeroespaciais. Para dar espaço ao projeto, centenas de famílias quilombolas foram removidas à força de suas terras, sem consulta prévia ou compensação adequada. Essas comunidades, que mantêm uma relação ancestral com o território, viram progressivamente suas culturas, modos de vida e direitos fundamentais serem violados em nome de um ideal ufanista de “desenvolvimento”, em um processo que foi marcado por ameaças constantes de ampliações da área de desapropriação.
Na decisão, a Corte IDH destacou que o Brasil falhou em garantir o direito à consulta livre, prévia e informada, conforme estabelecido pela Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o país é signatário. Além disso, a Corte apontou a ineficiência do Brasil em garantir o direito à proteção jurídica às comunidades quilombolas. As denúncias feitas pelo Movimento dos Atingidos pela Base Espacial (MABE) levaram o Ministério Público Federal do Maranhão instalou o Inquérito Civil Público nº 08.109.000324/99-28 para apurar irregularidades na implantação da base de lançamentos e a Ação Civil Pública 2003.37.00.008868-2-ACP, que tramita na Justiça Federal do Maranhão contra a Fundação Cultural Palmares e União, cobrando a titulação do território étnico. Entretanto, todas as ações judiciais se mostraram infrutíferas. Diante da ausência de resultados no sistema judiciário brasileiro, as famílias afetadas recorreram ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos como última esperança de justiça.
A decisão não apenas responsabiliza o Estado brasileiro, mas também estabelece medidas de reparação. Entre elas, estão a garantia da posse coletiva das terras quilombolas, demarcando e titulando 78.105 hectares de terra, a implementação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável das comunidades e a criação de um fundo de reparação para as famílias afetadas. A Corte também exigiu que o Brasil adote medidas para evitar que violações semelhantes ocorram no futuro, determinou a instalação de uma mesa de diálogo permanente, e a realização de um ato público de reconhecimento de responsabilidade por parte do Estado.
Esse processo, que tramitou por mais de duas décadas, só foi possível graças ao protagonismo de dezenas de homens e mulheres quilombolas, que dedicaram suas vidas e conhecimentos, nos últimos 40 anos, a resistir a todas as formas de opressão impostas pelo projeto desenvolvimentista. Sua luta incansável, organizada e coletiva foi essencial para levar o caso à Corte Interamericana e garantir que suas vozes fossem ouvidas em âmbito internacional nos dias 23 e 24 de abril de 2023, quando o caso foi levado a julgamento em Santiago, capital do Chile.

A vitória dos quilombolas de Alcântara na Corte Interamericana representa também um marco histórico para todos os movimentos sociais brasileiros, pois o caso expõe de forma contundente como o Estado tem tratado suas comunidades tradicionais e povos originários: priorizando interesses econômicos predatórios e projetos de “desenvolvimento” que ignoram e violam direitos sociais e territoriais. A decisão não apenas responsabiliza o Brasil por essas violações históricas, mas também reforça a indissociabilidade da luta racial, social e ambiental, evidenciando que o componente racial foi um fator determinante na morosidade e na ineficácia do sistema judicial brasileiro em apurar e julgar as denúncias feitas pelas comunidades desde a década de 1980.
Para as comunidades quilombolas de Alcântara, a decisão representa um passo importante na busca por reparação. No entanto, acredito que a implementação das medidas determinadas pela Corte IDH será ainda um desafio que vai exigir mobilização, vigilância e pressão constante dos moradores de Alcântara, dos movimentos sociais e das instituições que historicamente trabalham em prol da causa quilombola. Lembremos, como escreve Joaquin Herrera Flores, que as conquistas dos Direitos Humanos estão num campo de disputas permanente, pois, “os direitos humanos, mais que direitos ‘propriamente ditos’, são processos; ou seja, o resultado sempre provisório das lutas que os seres humanos colocam em prática para ter acesso aos bens necessários para a vida”.
Apesar de tudo, a vitória na Corte IDH serve como um lembrete a todos os que acreditam nos direitos humanos de que a luta é árdua e longa, mas não impossível, e a resistência e o protagonismo das comunidades quilombolas foram e continuam sendo fundamentais para construí-la. Essa decisão histórica é uma vitória não apenas para os quilombolas de Alcântara, mas para todos que defendem, como orienta Herrera Flores, que os direitos humanos sejam a base essencial da democracia e da justiça.
Marisvaldo Lima
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC; pesquisador em jornalismo e direitos humanos com foco em questões sociais e étnicas; membro do grupo Direitos Humanos e Jornalismo (DHJor).